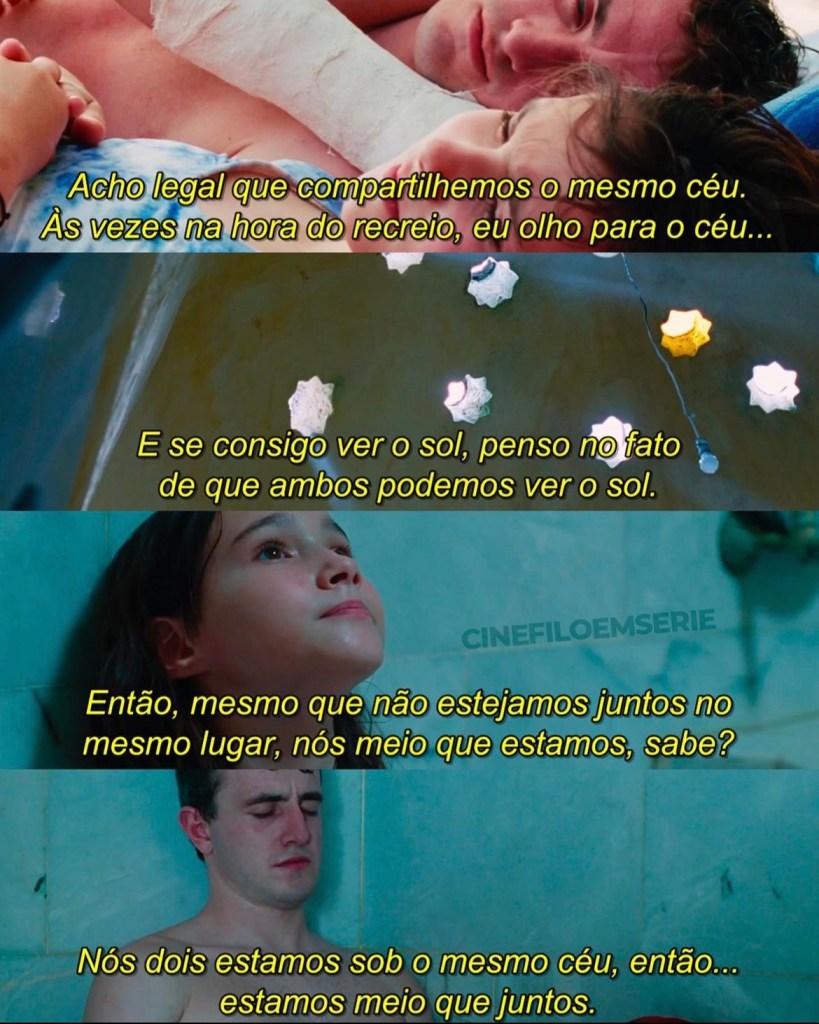A verdade é que eu só me interessei por essa história depois que disseram que eu teria que prestar depoimento ao juiz sobre o assunto, explicar como tudo começou e eu – bem, eu não tinha ideia do que se tratava. Como naquele livro do Kafka em que o cara é convocado pela Justiça e passa as 300 páginas da trama tentando descobrir, afinal, por qual crime mesmo ele estava respondendo – meu nome constava no inventário, eu não sabia como, nem o motivo. Pedi para ler o processo, novos documentos foram aparecendo, algumas cartas e cada página descortinava sobre pessoas conhecidas um passado que eu ignorava por completo. O mar não é só o que se vê da praia, veja bem.
Desde então, tive conhecimento de episódios familiares dos quais tomarei a liberdade de contar apenas este simplesmente por que ele virá a público frente ao juiz dentro de alguns dias – ou seja, não há mais motivo de segredo, todos saberão. Além de que ele é apenas um parêntese isolado dentro do enredo complexo do clã. No mais, não tenho interesse em cultivar fantasmas puxando meu pé pelas próximas madrugadas.
A parte em que eu entro nesta história aconteceu há uns dez anos atrás.
Eu estava desembarcando em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Inverno escuro, neblina fechada, eu subindo a serra para ir à casa de um tio-avô que ainda não conhecia. O plano era morar lá para terminar os estudos. Eu tinha por volta de 25 anos – aquela idade em que tudo parece definitivo: ontem você tinha 18, amanhã fará 40 e sua vida precisa desesperadamente de um rumo assertivo – e eu achava que sair de Salvador mudaria algo. Foi uma das tantas vezes em que eu achei que sair de Salvador mudaria alguma coisa. Nunca mudou nada. Mas eu ainda não sabia disso.
A porta do apartamento estava aberta. Encontrei um senhor quieto na varanda lendo o jornal. Uma bengala, uns olhos azuis, um sotaque português e um papagaio com o costume macabro de chamar pelo nome de pessoas que já morreram. O nome do papagaio era Inácio e o nome do meu tio – bem, não vem ao caso. Mas vamos chamá-lo de Tristão. Tristão recebeu-me com fotografias antigas, velhos casos da nossa família e conselhos sobre o sentido da vida. Foi uma tarde agradável, cheia de nomes e datas, dormi no quarto de hóspedes e sonhei em preto e branco. Os pedaços da conversa que eu não compreendia, atribuí ao jeito não-linear que os idosos têm de narrar suas coisas, mas me enganei – foram lacunas que só começaram a fazer sentido agora. Só quem nasceu numa família engendrada como a minha entende que há coisas que jamais serão faladas – todos podem passar gerações explicando sobre como as paredes andam desgastadas, sobre como o telhado já não é o mesmo, sobre como tem chovido nos últimos anos, mas ninguém anuncia que a casa vai cair. Até que a casa caia. No meio de uma frase que me parecia completamente desimportante, ele fez uma pausa para dizer que o que a gente se esforça para esquecer é o que domina a nossa vida. E deixou ficar um silêncio.
Foram apenas 24 horas em Petrópolis. Tudo que ouvi sobre a inutilidade de se tentar escapar do próprio destino parecia fatalmente direcionado a mim e eu decidi voltar para Salvador. Me despedi realmente agradecida. Dentro de algum tempo, soube que Inácio estava chamando o nome de Tristão junto com o de outros falecidos dentro da varanda vazia. Achei triste. E foi a última notícia que tive de lá.
Uma década depois, os advogados bateram na minha porta. Uma convocação para depoimento, perguntas que eu não sabia responder. Há seis meses estou montando este quebra-cabeça.
Pelo que entendi, foi assim.
Tristão nasceu em Portugal durante a guerra. Cresceu na Ilha de Madeira e emigrou ainda rapaz para morar com um tio do Rio de Janeiro. As cartas narram o seu deslumbramento com a cidade. As ondas quebrando no bairro de Laranjeiras, o verão que não terminava nunca – um calor de derreter catedrais, diria Nelson Rodrigues. Mas nada lhe tirava mais a respiração quanto os olhos verdes da esposa do seu tio.
Nós vamos chamá-la de Isolda. E devo dizer que não há uma linha sobre ela nas cartas à família, mas há no depoimento de uma ex-funcionária da casa: uma esposa muito alva com olhos muito verdes. Como num grifo de Machado: “aqueles olhos eram duas esmeraldas nadando em leite”. Segundo a funcionária, foi uma convivência que durou anos – as conversas depois do jantar não terminavam nunca, talvez como em A Missa do Galo: Isolda cogitando trocar os quadros da parede, sugerindo gravuras, ele comentando sobre personagens de ópera – num suplício silencioso, de cortar o coração. O tio não percebia, ocupado demais com negócios, política e amantes. Tristão pensava em fugir com ela. Um dia, de repente, o tio percebeu. Expulsou-o de casa depois de uma surra.
Nunca voltou a Portugal, não saberia como explicar o acontecido à família, seria um escândalo. Não tinha ninguém no Brasil. Morando num quarto de aluguel, Tristão trabalhou por muitos anos e, segundo ele, foram décadas que passaram como dias. Comprou um apartamento em Petrópolis, casou-se tarde e, na época, talvez por quê não tivessem filhos, meu pai, ainda criança, morou com eles por dois anos, onde o batizaram. Quando voltou para casa de minha avó, meu pai contava histórias sobre o papagaio Inácio. Só depois chegou ao apartamento de Tristão um telegrama que mudaria as coisas: anunciava que o velho tio havia falecido com dívidas e que Isolda havia sido despejada da casa de Laranjeiras.
Neste momento, caro leitor, devo fazer uma pausa retórica para perguntar: sabe qual a diferença entre uma novela e uma tragédia? É que, na novela, há um vilão. Já, na tragédia, o vilão é o acaso. São os reveses desbaratados do destino o grande antagonista de uma tragédia. E “o acaso é um deus e um diabo ao mesmo tempo”, não é mesmo? Pois bem.
Ele não dormiu naquela noite. Estava exasperado – escreveu a um amigo próximo. Passou a amanhã escolhendo as palavras. Na mesa do almoço, num tom moderado, leu o telegrama à esposa e sugeriu que acolhessem a tia em casa para que fosse morar com eles. Argumentou que a boa senhora o havia abrigado nos dias de juventude. Que o apartamento era grande. Que seria boa companhia.
Insistiu no assunto, mas sabia que aquilo estava errado. Sabia que era possível, inclusive, ajudar Isolda de alguma outra forma. O amigo, ciente do que estava acontecendo, escreveu desaprovando da ideia. Mas ele não podia escapar à tentação de tê-la novamente à mesa de jantar. Duas esmeraldas nadando em leite. Era a oportunidade de uma vida inteira. A esposa cedeu, inocente de tudo. E a chegada de Isolda iluminou a vida dele como um sol entrando num quarto.
“Discretos, silenciosos, chegaram os dias lindos”. As conversas depois do jantar eram as mesmas. Não eram jovens e estavam vivendo o auge de suas vidas numa fase em que a maioria das pessoas “vive com o verdadeiro rosto na nuca, olhando desesperadamente para trás”. Mas havia, outra vez, um triângulo. E, infelizmente ou felizmente, é dada à natureza feminina uma perspicácia que os homens desconhecem. A mesma paixão que cresceu durante anos invisível sob as barbas do tio de Tristão foi logo percebida pela esposa dele. Ela investigou o passado e a ex-funcionária da casa de Laranjeiras entregou tudo. Uma aberração. Uma imoralidade. Persuasão, Jane Austen, décimo capítulo. Dizem que, naquele momento, a emoção corroeu os nervos da esposa, lhe causou um mal súbito. Morreu pouco depois. Parentes diziam: morreu de desgosto.
E era o segundo escândalo que atravessava a vida dos dois.
Cartas desenrolam um novelo de culpa e tristeza. Eram duas pessoas sozinhas, não tinham ninguém. Continuaram no apartamento de Petrópolis. Os vizinhos comentaram a notícia, as pessoas do bairro espalharam boatos e, com o passar dos anos, o assunto foi caindo no esquecimento. Sempre há intrigas mais frescas e vexatórias a serem contatas. As antigas vão perdendo força e, de resto, a velhice cobre a todos com um manto de dignidade acima de qualquer suspeita. Todo pacato casal de idosos merece simplesmente ser deixado em paz.
Eles viveram juntos durante trinta anos.
Ele morreu em 2009 e, ela, em 2017. Na época em que estive lá, conheci Isolda na hora do jantar – mais idosa do que ele, mais disposta do que eu. Nunca oficializaram a união e até hoje há problemas com o inventário por causa disso. Perguntei por Inácio, o papagaio: depois da morte dela, teimava em voar sem destino pelas redondezas e, um dia, não voltou mais. Dizem que chamou tanto pelos mortos que os fantasmas vieram buscar. Ainda não sei exatamente por que apareci no testamento como herdeira do apartamento de Petrópolis e certamente o juiz irá questionar qual o meu laço com o casal em vida – será ridículo informar que foram apenas 24 horas de convivência, mas é a verdade.
Bem, ao menos até onde sei, esta é a história do meu tio Tristão. A história dos outros parentes eu não posso contar, mas são simplesmente inacreditáveis.
Às vezes, me pergunto se as coisas poderiam ter sido diferentes pra eles. E se ele tivesse voltado sozinho para a Ilha de Madeira? E se se aquele telegrama nunca tivesse chegado até Petrópolis? Jamais saberemos.
Confesso que, desde que esta Caixa de Pandora foi aberta, o que mais tem comovido esta minha alma irremediavelmente inclinada ao romanesco tem sido reconhecer o enredo dos clássicos em memórias de família. Hobin Hood, Os Maias, Os Belos e os Malditos, Tristão e Isolda. Como se tudo que já li na vida fosse um presságio da minha ascendência e não fosse necessário à ficção inventar mais nada, já que nenhuma criação pôde superar a realidade.
“Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde nasci, como passei a porcaria da minha infância, o que os meus pais faziam antes que eu nascesse”. “Venho de longe, de uma pesada ancestralidade”. “As estirpes condenadas a cem anos de solidão não têm uma segunda oportunidade sobre a terra”. “Infelizmente, todo poder do mundo não pode mudar um destino”.
É isso.
Sinto que todos os meus dramas estão justificados. A minha genética é pura literatura.
Read Full Post »